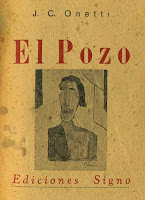Foi no enterro de dona Vívida que sua curta vida deu
um salto para o entendimento do que lhe vinha na alma. A senhora que havia sido
como sua mãe desde pequeno estava, pela primeira vez, com o rosto opaco e a expressão
distante. Nem por isso ele deixou de sentir nas rugas da velha vizinha os
sentimentos de toda uma vida, todos com histórias de que nunca ouviria notícia.
Todos os anos de dona Vívida pareciam, agora, dentro do caixão, um acúmulo de
histórias sentidas até o osso, que foram tampadas aos olhos de suas últimas
testemunhas.
O jovem ainda não chegava aos trinta anos, mas voltou
caminhando do enterro sem esquecer o rosto velho cheio de marcas com a certeza
de que tinha envelhecido. Essa certeza o assustou quando olhou sua imagem no
espelho. Via-se já distante dos traços infantis. No entanto, sabendo de seu
envelhecimento forçado horas antes durante o enterro, não via as marcas vitais
impregnando seu rosto. Sua face estava intacta, mas sem a pureza da infância.
Intacta e só. Depois das cerimônias funéreas da manhã, com o sepultamento das
histórias bravamente sentidas de uma humilde senhora do bairro, somadas à
certeza de um envelhecimento sem marcas, ele pareceu estar tomado pelo que
desde nascença o acompanhava em silêncio. Seu rosto, como sua alma, estava
intacto como a face da nuvem. Ele (pensou) nunca havia sentido nada. Nunca
senti nada. Ao pensar e olhar sua imagem no espelho refletida, nenhuma
expressão se constituiu. Um desespero o tomou sem que seu rosto pudesse dizer.
Saiu de casa ainda sem saber que não voltaria nunca mais.
Pelas ruas ele seguia sem se dar conta do caminho,
quando em sua mente a vida inteira se desenrolava sem que pudesse lembrar de
algum momento sentido. As pessoas passavam calorosas na rua, sempre apressadas
ou aposentadas, mas com o sentimento estampado no cenho. Naquele instante, ele
invejou o suicida, a dona de casa frustrada, o velho inconformado e sozinho,
todos que por ele cruzavam, e que sentiam, ainda que fosse o sentimento mais
infame. Pois, ele nunca sentiu nada. O mundo passava em seus olhos e ele não
sentia. A vida precisava ser diferente. Porém, havia entendido, mesmo naquela
manhã, o terrível destino de não possuir nenhum sentimento sobre ela E sabendo
ser incontornável, decidiu, ao menos, redimir sua vida criando a aparência de
ter vivido.
Decidiu sujar-se pelas ruas, com o pó e o cimento das
calçadas, como um menino que brinca ou volta de uma aventura. Porém, não sentia
nada. Correu do subúrbio até o mar, onde sabia ser um lugar em que se vivesse
plenamente. Lá, deixou o sol violar sua pele até deixar as marcas que nos
remetem a histórias que se perdem nos caminhos do corpo. Sem que vibrasse de dentro uma sensação, ele
teve a certeza de que precisaria tatuar em seu corpo qualquer instante que
pudesse ter sentido em chamas. Correu para lá sem saber o que marcaria em seu
corpo. Nada, no calor do segundo, remetia a uma vida cheia de sentimentos. O
tatuador sugeriu uma âncora, como um marinheiro que visitou mulheres nos portos
do mundo. Ele não se convenceu, porque queria algo marcante e que definesse uma
vida apaixonada e muito sentida.
Foi como um milagre que lembrou de quando leu o diário
de seu falecido avô, funcionário público e reconhecido poeta do bairro. Buscava
retirar da memória algumas daquelas palavras do avô. Porque, agora já tinha
certeza, nenhuma imagem poderia dizer melhor do que um poema tatuado no corpo.
Sinal concreto de uma vida sedenta e cheia de buscas. Só um verso poderia dizer
de sentimentos inqueitos e angustiantes. Ah, os poetas vivem como ninguém
imagina. Ele precisava estampar qualquer marca exasperada de quem, ao menos,
por um segundo sentiu.
No fim, aceitou as muitas sugestões do tatuador. E correu
pela areia já embriagado. Ninguém que tenha vivido deixou de passar no botequim
da esquina e embeber-se de sabedorias locais em garrafas de vidro. Lá acertou
dois homens com garrafadas, violentou a garçonete ao beijá-la, cantou em cima
da mesa, foi expulso pelos bêbados restantes e rastejou pela sarjeta. Porém,
não sentiu nada. Já não precisava sentir, porque, naquele instante, sabia estar
fazendo tudo o que, de fato, os que são impelidos pelo furor da paixão fazem
quando são tocados.
Soube, portanto, que já não voltaria para casa. Para
levar a cabo sua ideia de redimir sua vida, não bastava ter versos marcados na
pele e viver embriagado e ter o rosto de um cão sarnento. Ele precisaria, se
quisesse esconder para sempre seu íntimo segredo de insensibilidade, cometer, à
luz do dia, suicídio. Só assim, na hora de seu enterro, pensariam: “A vida para
ele foi dura e sentida. Esse sentiu as mazelas da vida. Foi um aventureiro
maldito...”. Quando, consciente de tirar a própria vida para torná-la
grandiosa, ele chorou verdadeiramente por não sentir coisa alguma. Sua decisão
foi indolor. Seu coração permaneceu intacto e, durante horas, observou os
adolescentes apaixonados na areia, os hippies nômades, até os homens que
moravam na rua e vendiam suas pequenas artes, e os viajantes maravilhados com o
paraíso do Rio. Todos tinham histórias dos seus sentimentos nos olhos. Exceto
ele, que a tudo olhava.
Do alto da ponte Rio-Niterói, ele lembrou do avô poeta
e de todos os que viveram com a intensidade do trovão. E que, se ele não pôde
sentir, fez num dia o que muitos fizeram verdadeiramente. No parapeito da ponte
houve, porém, algo com que não contava. Do carro, algum jovem apaixonado gritou
para assustar o suicida que, em vez de cair ao mar, quedou-se na pista com a
face mais amedrontada do mundo. E, no meio dos carros, cumpriu-se sua pequena
obra.
No dia seguinte ao enterro de dona Vívida, enterrou-se
o menino que ela criara com muito apreço por sua família. O jovem de morte
prematura fez com que toda a rua comparecesse à cerimônia. Todos certos de que
ele era um herói de alguma tragédia cotidiana. Alguém que muito vivera. Porém,
enterrou-se junto com ele um segredo que ninguém desconfiaria. Sua verdadeira
história morreu silenciosa e sem notícia. Um jovem poeta com treze tatuagens,
bêbado e com marcas de batom e sangue nas pontas dos dedos, sujo e marcado de
sol. Qualquer um que morresse assim seria visto como quem viveu feito louco.
Nenhuma das mil histórias acerca de sua morte diria que a vida por ele passou incólume.
Porém, quase tudo havia dado certo para o jovem
insensível. Não fosse o terror na hora de sua morte, diante de um caminhão,
tudo seria como o esperado e ele não morreria com a face completamente
contorcida, que ninguem no velório evitou. Ele foi enterrado com a cara mais
patética do mundo, daqueles que morrem ao temer uma barata.
 A realidade já provou que já foi. Já bem mais que provou. E que já bem mais do que foi (pelo amor de Deus, não é...). E que não faz o menor sentido. Que não tem base material. Que já nem sequer se conhece. Que não existe nenhum vínculo maior. Que um dia foi, mas depois virou outra coisa, depois virou uma coisa só da cabeça e depois nem mais coisa da cabeça ficou. E já deu dessa conversa. Não tem nada a ver. De verdade, nada a ver. Outros caminhos, outra vida, tudo outro. Tudo, tudo outro. De verdade, isso não é sequer um assunto, não existe.
A realidade já provou que já foi. Já bem mais que provou. E que já bem mais do que foi (pelo amor de Deus, não é...). E que não faz o menor sentido. Que não tem base material. Que já nem sequer se conhece. Que não existe nenhum vínculo maior. Que um dia foi, mas depois virou outra coisa, depois virou uma coisa só da cabeça e depois nem mais coisa da cabeça ficou. E já deu dessa conversa. Não tem nada a ver. De verdade, nada a ver. Outros caminhos, outra vida, tudo outro. Tudo, tudo outro. De verdade, isso não é sequer um assunto, não existe.